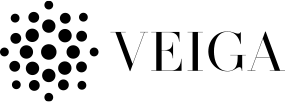Como é de conhecimento, em 18 de março de 2025 o Governo Federal apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 1.087/2025, propondo alterar a legislação do Imposto sobre a Renda em dois vetores: de um lado, ampliar a isenção e reduzir o imposto devido nas bases mensal e anual, de outro, instituir um “imposto mínimo” para pessoas físicas de altas rendas.
O PL 1.087/2025 nasce embebido de uma narrativa de justiça social e simplificação. Na vitrine, a ampliação da isenção do IRPF age como gatilho de aprovação mais imediata. No entanto, o “IRPF Mínimo” nos parece perseguir a velha cartilha brasileira: cumpre mera função arrecadatória, e aqui começa a história que interessa a quem paga a conta. Vejamos, trocando em miúdos: politicamente, é uma equação perversa porque cria popularidade instantânea ao mesmo tempo em que cimenta, desde já, a recomposição de receita aos cofres públicos. E a manutenção do limite de isenção sem atualização sistemática faz o que sempre foi feito no País: a inflação corrói o benefício em poucos ciclos, enquanto a nova camada de tributação sobre as altas rendas permanece. Isso, como sabemos, não é inédito, é recorrente. O sistema, quando convém, se autoajusta para cima.
No plano técnico, o chamado IRPF Mínimo tem engenharia complicada. O gatilho é a soma anual de rendimentos acima de R$ 600 mil, não apenas os rendimentos tributados na regra geral, mas também parcelas isentas, de tributação exclusiva ou com alíquota reduzida, com poucas exclusões. A alíquota efetiva anual é definida por uma fórmula pouco intuitiva: divide-se a renda global por 60.000 e subtrai-se 10, o resultado cresce linearmente até 10% quando a renda atinge R$ 1,2 milhão. A apuração é anual, com deduções específicas, mas o regime convive com uma antecipação mensal de 10% focada unicamente em dividendos recebidos em meses “cheios”, acima de R$ 50 mil por fonte pagadora. Para complicar ainda mais, há um redutor que limita a soma da tributação paga pela PJ e PF a tetos setoriais (34% para companhias em geral, 40% para seguradoras e 45% para instituições financeiras). O conjunto, na prática, se comporta como uma colcha de retalhos: cada peça tem alguma racionalidade isolada, porém o todo não veste bem. Ora o “mínimo” vira complemento, ora vira pendular de compensações e restituições, sempre adicionando atrito operacional.
Para criar essa máquina abstrata de difícil compreensão, o Governo usou como justificativa, o fato de que, algumas empresas, possuem benefícios fiscais e, por isso, acabam possuindo uma alíquota de tributação sobre a renda, menor do que a alíquota nominal de 34%. Mas perceba, essas empresas beneficiadas possuem uma razão de serem incentivadas, muitas vezes, são empresas de setores estratégicos, passaram por algum tipo de desastre regional ou, ainda, apenas fazem uso de incentivos fornecidos pela própria lei, como a Lei do Bem, que estimula que empresas apliquem seus recursos em pesquisa e desenvolvimento de pessoas, produtos e processos.
Assim, se o diagnóstico parte de imperfeições reais, como a erosão da carga corporativa por benefícios e regimes especiais sem reflexo progressivo na pessoa física, a terapia desvia do cerne. Em vez de reconstruir o elo de integração entre lucro societário e tributação do acionista, o projeto injeta uma camada paralela, e conveniente, na pessoa física, colando sobre ela fórmulas, exceções, antecipações e um limitador casuístico por fonte de dividendos.
Quando o objetivo é impedir que renúncias corporativas se convertam em alíquotas efetivas muito abaixo do razoável no topo da distribuição, a resposta madura costuma ser reordenar a lógica de integração e transparência do fluxo de lucros, não criar um “piso” que precisa ser domesticado com redutores, créditos e um adiantamento mensal que desloca caixa sem resolver o problema estrutural.
Os efeitos práticos para empresas e investidores são previsíveis. Haverá mais camadas de compliance, novas zonas cinzentas para fiscalização e incentivo involuntário a redesenhos societários defensivos, encarecimento ainda mais, do custo do capital produtivo no País.
Grupos com benefícios regionais (como SUDAM/SUDENE) e incentivos à inovação (Lei do Bem) verão a alíquota efetiva combinada oscilar conforme o mix de resultados e a política de distribuição, com risco de financiar o Tesouro “a juro zero” via retenções mensais de 10% sobre dividendos e só recuperar no ajuste anual. É ótimo para o caixa público, para a liquidez privada, nem de longe. E, ao não recompor uma base única entre PJ e PF, a proposta revive debates conhecidos e anteriormente sepultados, Distribuição Disfarçada de Lucros, disponibilidade jurídica e econômica da renda, natureza jurídica de redutores e créditos, empréstimos entre empresa e empresários e abre frentes novas.
Nisso tudo, a recém incorporada “simplicidade constitucional” celebrada no discurso do Governo permanece um mero slogan institucional, no cotidiano, prevalece a engenharia ordinária.
Há ainda um desalinhamento conceitual difícil de sustentar. O redutor que limita a carga combinada ancorado em 34%, 40% e 45% usa como bússola parâmetros corporativos, quando o discurso oficial é proteger progressividade na pessoa física. Se a régua é a capacidade contributiva do indivíduo, por que o “teto de justiça” não se alinha à alíquota marginal máxima da tabela da PF? A resposta sincera é prosaica: 34% arrecadam mais do que 27,5% e pacifica a conversa no ponto que interessa ao fisco: caixa. É um atalho ardiloso no papel, mas frágil no fundamento. No fim, decide-se justiça distributiva com referência empresarial, e não com a régua do contribuinte final, um contrassenso para um projeto que se vende como guardião de progressividade.
O próximo capítulo dessa história, se aprovado como está, combina aumento de complexidade com expansão do contencioso. Fórmula de alíquota efetiva, antecipação mensal e redutor setorial multiplica os pontos de fricção interpretativa e de conformidade. É plausível uma melhora arrecadatória no curto prazo? Sim. Mas a relação custo-benefício para a economia real tende a ser desfavorável: incerteza jurídica somada a custo de compliance e deslocamento de caixa é um “imposto invisível” que encarece capital, deprime investimento e, ironicamente, pode reduzir a base tributável adiante. O Brasil já opera no limite de tolerância à complexidade, mexer nas franjas e preservar a medula costuma produzir efeitos colaterais.
Do ponto de vista empresarial, a recomendação é objetiva e imediata. Políticas de dividendos precisam de revisão cirúrgica, com simulações que considerem sazonalidade, concentração por fonte pagadora, convivência com benefícios e o impacto do redutor. Estruturas de holdings e blocos de controle devem ser recalibrados para mitigar antecipações e posicionar a carga PJ e PF em patamar eficiente dentro da legalidade. O fluxo de caixa tem de ser replanejado para conviver com retenções mensais e possíveis saldos a restituir, sem estrangular CAPEX e OPEX. A documentação societária e contábil deve ficar à prova de fiscalização, não apenas para resistir a questionamentos sobre disponibilidade de renda, mas para sustentar, de forma persuasiva, que se trata de planejamento legítimo e não artifício.
Alternativas existem e são superiores no plano da técnica e da governança, sem precisar mirar modelos específicos. Em linhas gerais, a solução consistente adotada por outros países, passam por reconstruir a integração: alíquota moderada na pessoa jurídica, imputação clara do imposto corporativo na distribuição, registro robusto de lucros para evitar dupla incidência e um mecanismo objetivo que desestimule postergações indefinidas (por exemplo, uma distribuição mínima legal vinculada a métricas de caixa e investimento). Quando, por razões políticas, não se quer tocar na estrutura, há um caminho mínimo: alinhar o teto do redutor à alíquota marginal máxima da PF e simplificar o escopo do IRPF Mínimo. Em qualquer dos cenários, a régua precisa ser a pessoa física e a lógica precisa ser uma, hoje ela é tripla.
Em suma, o PL 1.087/2025 entrega um diagnóstico parcialmente correto e um remédio inadequado. Ele eleva a isenção e inaugura um piso anual para altas rendas, mas mantém intocada a espinha dorsal de integração entre PJ e PF, aumenta a complexidade e terceiriza ao contribuinte o ônus de financiar e destrinchar uma arquitetura que prefere fórmulas a escolhas estruturais. Cabe aos contribuintes, que já operam no limite da capacidade de pagamento e complexidade, buscar caminhos legais para planejar e atenuar impactos, porque, no Brasil, poucos pagam muito para que muitos contribuam muito pouco. Enquanto a política escolher o atalho, nosso papel é proteger o cliente deste manicômio, mapear exposições, desenhar cenários, otimizar a combinação PJ mais PF e preservar liquidez sem abrir mão da segurança jurídica. Com técnica fria, senso de oportunidade e uma dose cinismo, dá para atravessar mais esta rodada de “modernização” da renda sem perder eficiência, mas é claro, apenas para os mais diligentes.
Nossa prática de Direito Tributário está à disposição para dirimir eventuais dúvidas ou prestar maiores esclarecimentos sobre o tema.